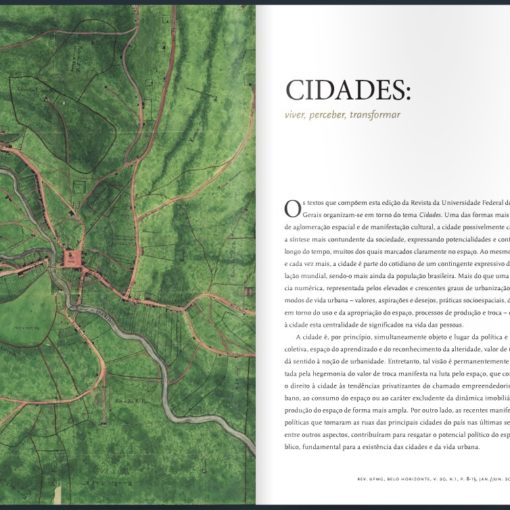Texto de Renata Marquez e Wellington Cançado*
publicado originalmente no livro “Intervalo, respiro, pequenos deslocamentos” (2011)
Azulejos

As discretas imagens de domesticidade que os azulejos de papel carregam mimetizam criticamente a própria dinâmica de autodestruição da cidade. Elas repetem e multiplicam à exaustão – de acordo com a velocidade e disponibilidade da máquina da gráfica de milheiro do Mercado Novo – o vestígio de espaços vividos, hoje moribundos. Nessas paisagens tristes, encontradas nas margens das vias sempre em obras, dos edifícios cegados e anulados e das ruas da periferia – sim, as periferias também têm as suas margens –, percebemos a materialidade violenta da cidade. Invasões abruptas do poder público sobre o domínio privado revelam ex-casas nuas, lápides de cotidianos expulsos pelos interesses escusos e pelos argumentos utilitaristas. Nesse território sem lugar, os frágeis azulejos de papel reassentam inesperadamente as histórias dos espaços domésticos preexistentes, revestem a destruição e impermeabilizam o abandono. Seus diminutos 15 x 15 centímetros acrescentam à enormidade desmedida da metrópole um imaginário narrativo e uma ficção histórica, ainda que efêmera. Afinal, esses azulejos de papel são ruínas de um passado recente cujas vísceras são apresentadas pela “indústria da modernidade e do desenvolvimento” ou são tentativas modestas e fragmentárias de habitar o presente, sob a ficção de que outra cidade é possível no futuro?
Ali ao lado, outras pilhas de azulejos de papel esperam para serem assentadas em mais paredes inúteis, para confortar as ex-casas e restaurar-lhes certa compostura. Mas tudo parece em vão: as ex-casas já foram dissecadas, descascadas, incomodadas e desacomodadas e, pasmem!, não ofereceram resistência. Nessas paisagens temporariamente sem uso, os azulejos simplesmente participam de um patchwork coletivo, sem autoria, sem garantia, sem permissão nem futuro. Pontuam ingênuas alegrias, ilustres fragmentos de uma arquitetura moderna internacionalmente admirada (a tradição luso-brasileira da azulejaria versus a nova tradição da destruição), superfícies coloridas que requadriculam a desordem e a sujeira. Azulejos imagéticos que engendram ambientes inacabados e híbridos: trincheiras-quase-cozinhas, galpões-semi-jardins, viadutos-meia-suíte, arrimos-nunca-pátios etc.
Arquiteturas que borram os limites entre o público e o privado, o externo e o interno e criam uma cidade doméstica, que se difere de uma cidade domesticada: uma paisagem familiar, apropriável e adornada em vez da macropolítica abstrata da especulação. A escala humana e a micropolítica no espaço urbano em vez do planejamento produtivista. Os azulejos grudados nas ruínas são selos de domesticidade e “bela arquitetura”, “buena vida”, o grude posto com a língua na carta incerta. Os azulejos de papel são impressos que codificam as sobras da cidade como espaços íntimos. Disfarçados de banal papel publicitário, colados sobre outros troços de palavras e imagens, os azulejos trazem uma “mensagem publicitária”, ao mesmo tempo obscura e luminosa, publicidade e privacidade, prática e poética.
Rotineiramente confundidas com os graffitis, com os stickers, com os lambe-lambes e com os panfletos das cartomantes, essas arquiteturas de papel superam a dicotomia disciplinar e operacional entre a “arte da construção” e as “artes da apropriação”, engendrando a coexistência como prática e instaurando a co-habitação (do mundo) como procedimento básico. “Arte urbana” que, institucionalizada ou não, não opera mais pelo embate direto com a propriedade-tectônica, mas viabiliza uma humanização engajada e pictórica de seus escombros. Imagem fabricada como artesania e assentada como cerâmica por argutos pedreiros semióticos, os azulejos explicitam a brutalidade arquitetônica e urbanística naturalizada pela “estratégia do choque” e pela oposição a tudo o que for preexistente (ainda típicos da nossa época). Ao mesmo tempo, propõem uma outra cidade feita de pequenos interiores e felizes paisagens. Atuam como a janela ilusória que irrompe os limites daquele muro obsceno e descortina a possibilidade da paz e da tranquilidade de uma praia tropical em alguma parte entre Israel e a Palestina (Banksy) e como aqueles pivetes-de-brechó rodeados de peixes-lantejoula, bichos estranhos, padrões têxteis e o fundo multicolorido nos baixios de viadutos de São Paulo (Os Gêmeos), que “reformam” os espaços, tornando-os, mesmo que superficial e temporariamente, imaginários habitáveis. Mas essa não é, ou deveria ser, a atribuição mais óbvia de qualquer arquitetura: propor imaginários habitáveis para o futuro e propiciar a habitação imaginativa do presente?
Interruptores

Enquanto os azulejos são potentes paisagens-interiores, os interruptores fomentam a ação direta e a transferência de controle. Interruptores de papel colados nos postes da cidade provocam a possibilidade real de que – por que não? – as lâmpadas daquela rua sejam apagadas por qualquer um, quando a noite chegar. Por que ainda é impossível apagar ou acender deliberadamente aquela lâmpada lá no alto, acima da copa da sibipiruna amiga e que, ao invés de iluminar a calçada, insiste em incomodar o sono leve dos moradores do segundo andar (cujas janelas ainda não sucumbiram ao poder alastrador da veneziana de alumínio, do blecaute e do Insulfilm™)? A proximidade compulsória entre o edifício e o poste, entre a TV no quarto e a lâmpada na rua, entre o ruído do transformador e o tic-tac do despertador são afrontas concretas à separação burocrática e fictícia entre o público e o privado no cotidiano da cidade. Nessa concepção vigente, em que o privado é o reino estável e seguro habitado por “pessoas físicas” e negociado por “pessoas jurídicas”, o dentro, o interno, o fechado, o íntimo são o reverso da cidade. O público, uma vez que não se completa como espaço concreto de trocas e pertencimentos, torna-se meramente o que é “da Prefeitura” ou de qualquer outra entidade abstrata passível de ser enquadrada na categoria de poder (público, no caso) – ou seja, de ninguém. Tudo o que não está “dentro”, portanto, não pertence a alguém, apesar de ser um “bem de todos”. Como aquela lâmpada que, apesar de iluminar intensamente o interior do apartamento, não pode ser apagada por um interruptor instalado ao lado do criado-mudo.
Mas a cidade, essa terra de ninguém, esse espaço genérico e poucas vezes generoso, e o poder público, essa entidade fictícia e esse sistema abstrato, são, então, abruptamente interrogados pela presença inusitada do interruptor no poste. Assim como os moradores locais e passantes mais atentos. E, de repente, esse dispositivo anônimo de sugestão de um controle personalizado humaniza a rua deserta, interpela suavemente os habitantes da cidade, transfere virtualmente o poder público para o público. Transferência (transfer): é disso de que trata o interruptor, e não de deslocamento. Afinal, não estamos já suficientemente deslocados, descontextualizados e desnaturados? Aquele interruptor quase invisível e de materialidade duvidosa, ao transferir hipoteticamente o poder do controle e sugerir a possibilidade de mais autonomia individual e alguma interação coletiva (e não há paradoxo nenhum nisso) – como aquela tomada na calçada que disponibilizava gratuitamente energia aos pedestres e camelôs locais (Rubens Mano) –, recontextualiza os conflitos explícitos entre o interesse público e a indiferença privada e recoloca as questões mais óbvias sobre o nosso cotidiano na cidade.
Ora, por que as luzes são tão altas se as pessoas estão lá embaixo? E por que as lâmpadas estão viradas para a rua se os pedestres estão na calçada e se os carros têm faróis? E uma vez que estamos mesmo cogitando administrar voluntariamente essa lâmpada incoveniente, por que não podemos também apagar todas as demais lâmpadas da rua para brincar de pique-esconde ou para promover um cinema ao ar livre nos finais de semana? Aliás, por que todas elas têm que acender juntas? Por que o sistema geral não permite apropriações locais? Por que os serviços públicos desconsideram a existência de públicos particulares?
Design de prospecção
Sabemos que aquele singelo interruptor adesivo e aqueles improváveis azulejos de papel nunca pretenderam funcionar de fato como interruptor e azulejos: são projetos. Projetos de rua, de bairro, de cidade; projetos urbanísticos sob a forma de stickers e estamparias. Projetos de relações possíveis entre nós mesmos e entre nós e as coisas enigmáticas que criamos, usamos e destruimos cotidianamente. Projetos nos quais o urbano, de repente, aparece menos abstrato, mais doméstico, mais perto de nós. Projetos nos quais a urbanidade se confunde com a habitabilidade. Projetos à espera de serem realizados de fato e por qualquer pessoa.
Não se trata pois, de criar novos desenhos, novas formas, novas estruturas. Nem mesmo de criar o novo (de novo), mas de descobrir e apresentar os modos de leitura e entendimento do existente, os comandos de controle do planejamento pretensamente objetivo que governa o cotidiano.
As prospecções do Poro procedem de um projeto indisciplinar e solidário, baseado em possibilidades de vida simples, óbvias, coletivas, transformadoras, disponíveis ali na esquina. Um design que, antes de ser um processo de organização do cotidiano ou uma ferramenta cínica de “agregar valor”, configura uma estratégia pedagógica de agenciamento prático e imaginativo do espaço produzido e vivido; um catálogo de potenciais usos das coisas e relações entre as pessoas.
Legitimados como “intervenção urbana” e colados com destreza pela cidade, os azulejos e os interruptores do Poro inventam de imediato a possibilidade da rua como extensão do doméstico e da casa como intenção pública. Convertem a contemplação em ação (difícil não querer tocar o falso interruptor) e a leitura em escritura (impossível não continuar a paginar os muros imundos com a imagem dos azulejos). Reivindicam a democratização dos “protocolos de acesso” aos sistemas e reafirmam a importância do uso cidadão dos dispositivos. Engendram arquiteturas adesivas, precárias, prospectivas e poéticas. Insurgentes “lições de arquitetura” desconhecidas ou desconsideradas pelos arquitetos, que no afã de construir o mundo, se esqueceram de inventar formas de habitá-lo.
*RENATA MARQUEZ e WELLINGTON CANÇADO são professores de Design e Arquitetura na Universidade Federal de Minas Gerais e editores de PISEAGRAMA: Espaço Público Periódico (www.piseagrama.org). Publicaram Espaços Colaterais (www.colaterais.org), Domesticidades: Guia de Bolso e Atlas Ambulante.